Professores não podem ser agentes de uma militância que quer forçar a igualdade e fazer engenharia social, dobrando a sociedade e a língua culta a seu dialeto
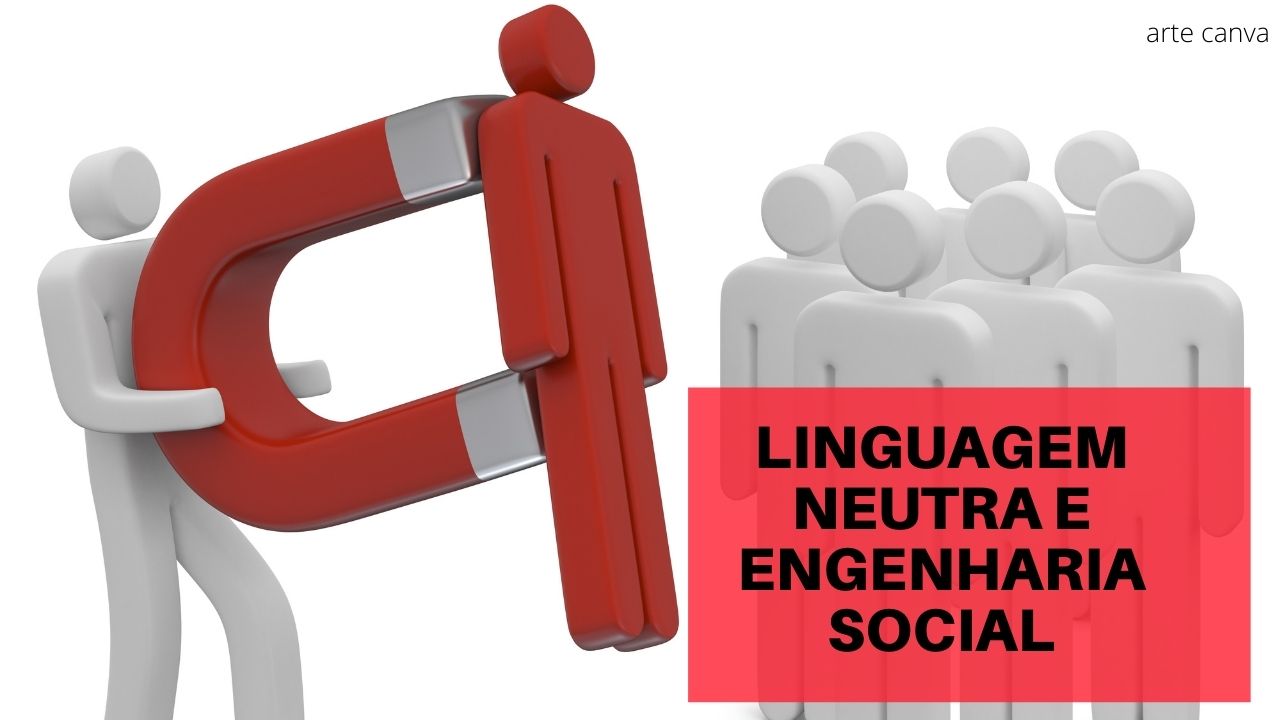
Há pouco mais de cinco anos, a quase metade do país identificada com o governo Dilma Rousseff, sua militância e certa imprensa de esquerda, não abria mão de que ela fosse chamada de “presidenta”.
Achava por bem e afirmativo dispensar a muito competente expressão neutra, comum de dois gêneros, “presidente”, que identificou homens e mulheres no comando de organizações desde a existência do português.
Em tão pouco tempo, depois de contaminar o país e muito jornal, revista e literatura com a ideia de que não havia outra alternativa, a militância que restou desse tempo deve achar agora que ela deveria ser chamada de… “presidente”.
Para não dar o braço a torcer, talvez “presidentx”, igual a outras anomalias que essa militância dá o nome de linguagem neutra ou “não binária”, com que pretende outra vez dobrar a sociedade a suas crenças, como costuma fazer a cada cinco anos.
Só o fato de mudar de projeto em tão pouco tempo, como se não houvesse outra alternativa para a língua desde a chegada de Pero Vaz de Caminha, é para desconfiar por que suas tentações de mudar a sociedade à sua imagem e semelhança não devem ser levadas a sério.
A linguagem neutra é um dialeto de uma minoria que, como toda ela, herda ou elege seus próprios códigos para se dar bem e ser melhor entendida entre os da tribo, como o pessoal da informática, os publicitários, os surfistas e os pataxós.
Nem por isso, nunca, nem em sonhos, se aventou a possibilidade de que fossem impostos em sala de aula para corrigir diferenças históricas contra a estrutura linguística da maioria, a que chamam com alta desonestidade intelectual de “linguagem opressora”.
A onda é a filha mais nova do politicamente correto, uma militância de forte vocação totalitária que, oriunda da esquerda americana de já uns 30 anos, força alterações na linguagem para induzir mudanças no pensamento e, em seguida, no comportamento.
Começou como norma de etiqueta social para proteger minorias de condições que não podiam alterar, raça e cor, que se sentiriam ofendidas por expressões que remetessem a algum tipo de crítica à sua condição.
A expressão “a situação está preta”, por exemplo, que traduz um estado de escuridão sem saída, deveria ser banida. Não por designar o oposto de uma situação de claridade, tranquila, mas porque se constituiria a partir daí em racismo, ofensivo a uma raça.
A partir daí, foram ampliando o repertório de palavras e expressões proibidas, a não ser em seu sentido restrito, como se ressuscitassem o Index Prohibitorum da Idade Média, de publicações proibidas pela Igreja.
Daí para a tentativa de banir todas as palavras e tratamentos que poderiam afetar todas as minorias, não só pela condição com que nasceram como pela opção social que fizeram depois disso. Que, aliás, nem pode mais ser chamada de “opção”. É “orientação”, segundo o novo Index.
Até chegar à elaboração sofisticada de que todas as palavras que definem categorias consolidadas pela tradição, como homem e mulher, masculino e feminino, deveriam ser banidas em nome da igualdade.
Era a denúncia do linguajar estabelecido como forma de corrigir desequilíbrios sociais e econômicos. Seria derivado de preconceitos cristalizados pela linguagem dos dominadores, opressora, aí entendido como o restante da sociedade fora de seu círculo.
Onde que expressões como “todes” ou “iles” ou “amigues” devem substituir as expressões “todos ou todas”, “eles ou elas”, “amigos ou amigas”. “Todos” não pode expressar um conjunto de pessoas, de qualquer sexo, como veio do latim, porque seria opressor.
Poderia parar por aí, até como curiosidade inocente de tribos minoritárias, não fosse alavancada na tese de que o sexo — e não só as palavras — é uma construção social que pode ser modificado. E que a família, formada por homem e mulher, é mera convenção.
Aí é que a porquix torce o/a rabix. Um ponto de inflexão filosófico que, em bom português da norma culta, significa a impossibilidade prática de que um suíno do gênero feminino possa torcer a protuberância a partir do cóccix que nos quadrúpedes se dá o nome de cauda.
Ao impor o seu dialeto como condição de mudar a forma de falar, depois de pensar e, em seguida, de agir, o movimento trai uma intenção mais cavilosa de fazer engenharia social de baixo para cima, totalitariamente.
Arrebentar a porta, como digo neste artigo sobre o movimento LGBTQIA+. E utilizando a escola, o centro irradiador de saber, como aparelho de luta.
Que é o primeiro motivo pelos quais a escola não deve embarcar nessa, sobretudo porque há uma linha muito segura onde ela não deve ultrapassar, que é na educação sexual de nossos filhos.
O segundo é que essa reengenharia social pugna por destruir a norma culta, da mesma forma que, no passado, ao modo Paulo Freire de aproveitar a experiência, ensinava aos alunos que “nóis vai” não é necessariamente errado.
Se a escola quer ensinar a pensar e raciocinar com independência, ela deve mais do que nunca se atracar à norma culta. Não só obrigatória por lei, mas porque é o caminho mais seguro de dar a seus educandos competência para elaborar pensamentos mais sofisticados.
E terceiro porque tem mais o que fazer, outros dialetos a estudar, como aliás já fazem, com o de índios, e linguagens mais urgentes a cuidar, como também já fazem, para incluir pessoas de fato necessitadas de atenção, como cegos, surdos, mudos e autistas.
Que, sintomaticamente, não é objeto de preocupação do projeto de inclusão desses novos engenheiros sociais do novo index proibitivo, engajados no propósito de dobrar a sociedade a seu dialeto. (Como explicar em linguagem de libras de quem se está falando com o “ile”?)
Cíntia Chagas, uma professora de portugês brilhante que está bombando em entrevistas nas redes sociais com muito dos argumentos que desenvolveu num artigo para o Estado de Minas, que aproveito aqui, lembrou muito bem que defender cegos, surdos e mudos “não engaja”, como é o fim último dessa militância.
Ela delimita muito bem o campo em que atuam. Que não é, como em geral se generaliza, “coisa da esquerda”, nem de pessoas de carne, osso e orientações sexuais diversas que estão perto de nós, mais preocupadas com sua vida do que com política.
Para ela, toda a onda é criada por políticos que manipulam minorias em busca de voto e, como sempre, fomentada pelas áreas de Ciências Sociais da universidade, que desde os anos 80 vem fazendo militância identitária para forçar a igualdade pela mudança da linguagem.
Leia meu artigo: Artigos falsos em revistas científicas denunciam militância na universidade
Não quero dizer — e quem sou para isso? — que a escola não deva tratar dos novos dialetos, como também trata de outros, gírias, neologismos, estrangeirismos, que são fenômenos que, mais cedo ou mais tarde, serão incorporados à norma culta.
E nem que vá subtrair dos jovens as discussões da tal “construção social”. Que, aliás, já parece meio tarde. Converse com seus filhos no café da manhã para saber que são da geração mais despreconceituosa da história, em relação a gays, negros e famílias não tradicionais.
Mas que mantenha distância. Acho altamente inadequado um professor saudar os alunos com “Bom dia a todes”, como sei que existe, ou a direção da faculdade mandar um email com “amigues”, que também ocorre.
Não é uma bobagem ou um fato isolado. É uma distorção no lugar inadequado. Uma ação de agente de militância metido a moderninho que pode estar consciente ou inconscientemente atuando para dizer aos alunos que a escola chancela a nova onda. Chancela?
> Publicado no Estado de Minas, em 10/11/2021
Veja o vídeo:






Deixe um comentário